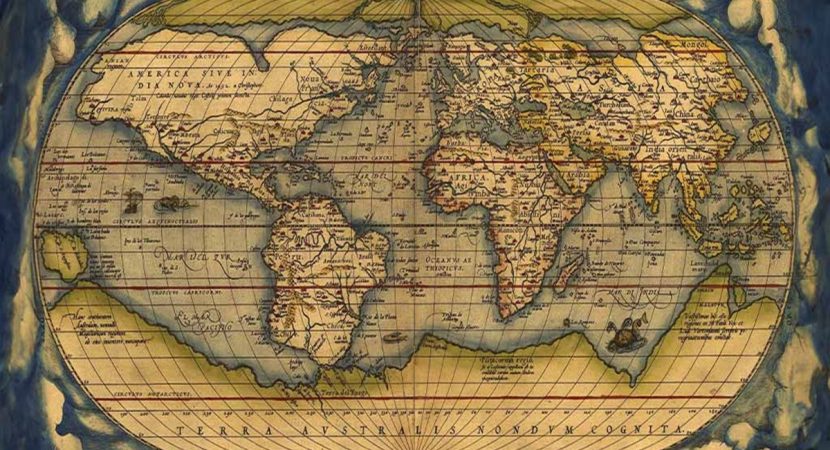Agendar
Texto escrito em coautoria com Davi Schelotag de Moraes
A obra “As américas na primeira modernidade”, separada em dois volumes, é composta por uma série de artigos (capítulos) escritos por autores diversos que abordam recortes temporais e temáticos múltiplos a partir de metodologias igualmente plurais. É por esse motivo que a introdução do primeiro volume, escrita por Jorge Cañizares-Esguerra, Luiz Estevam de O. Fernandes e Maria Cristina Bohn Martins, assume grande importância por oferecer alguns conceitos chave e um fio condutor possível para costurar criticamente a obra em um todo conciso.
Ademais, apesar da “unidade de toda a história que quem quer que se aventure a contar um pedaço dela sentirá que sua primeira sentença rasga uma teia inconsútil”[1], descrita na introdução como um “cadinho de Histórias emaranhadas” que se apresenta como um grande desafio analítico em razão das limitações impostas ao pesquisador para discernir nos mínimos detalhes todas as relações causais e engrenagens dessas estruturas, a escolha temática possibilita que alguns textos tenham maior importância que outros, sem contudo perder de vista a totalidade.
Nesse sentido, as relações culturais e religiosas, as variadas sociabilidades do Novo Mundo e a administração colonial que precisou se adaptar a essas novas realidades foram colocadas em foco, levando à escolha de quatro textos essenciais: “Os índios: povos ancestrais, sujeitos modernos”; “Fama, Fé e Fortuna: o tripé da conquista”; “Sociabilidades criollas na América Hispânica” e “As estruturas administrativas, jurídicas e legais no Atlântico Ibérico”. A escolha tem também por objetivo possibilitar a apreciação crítica das ferramentas conceituais oferecidas pela introdução para analisar o recorte temático e propor, por fim, um quadro teórico alternativo para relacionar de forma substantiva os movimentos dialéticos das estruturas simbólicas, de forma análoga ao que a economia mundo oferece para as dinâmicas materiais.
O quadro teórico alternativo para a análise substantiva terá como base A nova ciência da política de Eric Voegelin, que relaciona os movimentos simbólicos auto-interpretativos das sociedades humanas com processos dialéticos que o autor denomina “diferenciações”. O conceito de representação existencial do autor também é útil para entender a prudência do monarca descrita no texto de Marco Antonio Silveira e Raúl Fradkin e pode ser relacionado com as ideias de Anthony Pagden em sua obra Lords of all the world citada na introdução.
II
A expansão marítima ibérica foi marcada por rupturas e continuidades que são características do espírito da primeira modernidade, descrito como uma virada epistemológica em que a experiência passou a ser fonte importante do conhecimento de mundo e meio de progredir em relação aos entendimentos dos antigos. Ao mesmo tempo em que o cronista Pedro Mártir de Angléria, maravilhado com a pujança e as conquistas espanholas, aponta para o moderno como superior a tudo o que os antigos já haviam escrito ou presenciado, surge a figura de Cristóvão Colombo, o responsável pelas primeiras expedições de “descobrimento”, sugerindo que o ouro conquistado no novo mundo poderia financiar a tomada de Jerusalém pela cristandade:
“Esta empresa [a viagem para o Oriente] foi feita no intuito de empregar o que dela se obtivesse na devolução da Terra Santa à Santa Igreja. Depois de ali ter estado e visto a terra, escrevi ao Rei e à Rainha, meus senhores, dizendo-lhes que dentro de sete anos disporia de cinquenta mil homens a pé e cinco mil cavaleiros, para a conquista da Terra Santa e, durante os cinco anos seguintes, mais cinquenta mil pedestres e outros cinco mil cavaleiros, o que totalizaria dez mil cavaleiros e cem mil pedestres para a dita conquista” [2].
Essa modernidade também é caracterizada pela mobilidade como “elemento fundamental no estabelecimento de conexões mundiais que deram aos contemporâneos à noção de que a experientia era epistemologicamente mais importante que a auctoritas”. Entretanto, apesar dos desenvolvimentos técnicos com a compreensão dos ventos, das correntes marítimas, a orientação pelas estrelas e o uso das bussolas, a emissão da bula Inter Caetera e tantas outras, são símbolos da necessidade de legitimação religiosa, característica da relativa unidade espiritual medieval que a Igreja Católica manejava no continente europeu e da ligação simbiótica entre o aparelho estatal e o poder eclesiástico, como fica claro no mecanismo do padroado e nos direitos ao dízimo que a coroa tinha no Novo Mundo e que são descritos no capítulo sobre as estruturas administrativas, como também na força política que as denúncias de homens como Montesinos e Las Casas tiveram na reestruturação da política indigenista e na querela dos encomenderos apontadas por Maria Cristina Bohn e Leandro Karnal.
Também não se pode esquecer, e os autores não deixam de destacar, que o mundo já era conectado de diferentes formas em rotas comerciais e trocas culturais entre o continente africano, o europeu e o asiático tendo a China como um núcleo de influência central nessas trocas dinâmicas de conhecimentos e mercadorias. Nesse sentido, um artigo de Felipe Fernández-Armesto é muito elucidativo, onde o autor se questiona sobre como os europeus, que até então eram pobres, periféricos e sem grande importância mundial, se tornaram potências imperiais[3].
Essas contradições levantam outro aspecto essencial para a primeira modernidade descrita na introdução e que os autores denominam de passeurs. Há a necessidade de estar consciente do rompimento com os antigos entendimentos compartilhados em sociedade, da existência de fronteiras, transitando entre organizações culturais e atuando como pontes entre mundos diversos. Seria esse o caso do encontro entre os missionários católicos de diversas ordens e os habitantes nativos das américas, como também das formações sociais sincréticas dos criollos que transformaram “a periferia, na qual viviam, em centro de seus novos mundos; capazes de pensar a totalidade do globo, a partir desse novo centro.”
Entretanto, é perceptível que esses rompimentos a partir de novas experiências empíricas são organizados em estruturas simbólicas anteriores ao contato com o outro inteiramente novo, e mantêm ainda premissas e valores tradicionais. Em “Os índios: povos ancestrais, sujeitos modernos”, Alexandre C. Varella apresenta essa dinâmica provavelmente amparado na teoria histórica de Marshall Sahlins, que delineia um duplo movimento onde, ao mesmo tempo em que os povos interpretam o novo dado com suas premissas próprias, essas estruturas correm o risco de serem quebradas pelo evento que as supera ou pelos próprios agentes humanos que usam valores e crenças para projetos próprios.[4] A título de exemplo, Alexandre C. Varella demonstra que as mudanças drásticas e todos os danos causados pelos invasores europeus foram simbolizados pelos habitantes nativos em suas próprias estruturas proféticas como o caso da história ameríndia de Popol Vuh, os livros de Chilam Balam e as leyendas de los soles, essa última relacionada a perspectiva de tempo cíclico dos astecas em que o mundo era destruído e recriado e sua manutenção exigia sacrifícios rituais. Entretanto, esses mesmos povos se apropriaram de meios europeus para a manutenção de suas tradições, como fica patente na descoberta de Hernando Ruiz de Alarcón de anotações de antigos ritos ameríndios que “se misturavam às visões de santos e anjos”.
As missões católicas seguiram a mesma lógica que regeu as manutenções e transformações experimentadas pelos indígenas, mas com um diferencial que não pode ser deixado de lado, e os autores não deixam de pôr em relevo, visto que sua relativização pode comprometer o entendimento das trocas estabelecidas: As missões católicas foram favorecidas pela estrutura imperial, o que criava um desbalanço nas relações de poder, submetendo muitas vezes os indígenas a relações e valores com o uso da força e da violência.
Os batismos em massa promovidos pelos franciscanos nas Américas, que foram criticados pelos dominicanos por não gerar conversões legítimas já que eram feitos sem a devida instrução doutrinária para o convencimento dos indígenas, e o incentivo ao culto de Nossa Senhora de Guadalupe por parte dos dominicanos, que por sua vez foi alvo de críticas dos franciscanos, são exemplos dados no texto de Maria Cristina Bohn e Leandro Karnal de adaptações a novos contextos feitas por agentes conscientes de estarem em fronteiras sociais e culturais e que, ao mesmo tempo, buscavam reproduzir as bases de seus sistemas de crenças.
Esses esforços interpretativos que partiram dos missionários e dos nativos acabaram por criar unidades de significado únicas e inovadoras, verdadeiras fontes de identidade local que criaram novas lentes para os habitantes interpretarem o mundo e seus lugares nele. O capítulo sobre as sociabilidades criollas escrito por Anderson Roberti dos Reis e Luis Guilherme Assis Kalil é elucidativo nesse sentido. Apesar da existência de um sistema administrativo e de um projeto relativamente centralizado de organização social, os autores demonstram que a vida em sociedade sempre desafiou as simplificações jurídicas e administrativas e que, por exemplo, os santos e devoções que surgiram nas américas tinham efeito criador de identidades locais e afirmação de valor de seus habitantes, como que implicitamente dizendo que suas terras também eram dignas de produzir santos e receber iluminações divinas, contrário ao preconceito europeu de degeneração dos habitantes do Novo Mundo.
III
A constatação de dinâmicas e identidades locais, que forçavam adaptações dos poderes metropolitanos para atingirem seus objetivos, levanta questionamentos sobre o modelo político adotado pelas monarquias ibéricas para gerirem o negócio colonial em um mundo vasto e multifacetado. O capítulo sobre as sociabilidades criollas deixa claro para o leitor que o estudo dos tipos de relações sociais e a forma como elas se desenvolveram no mundo colonial passa, necessariamente, pelo entendimento da organização política e administrativa.
Para teóricos que defendem a existência de uma monarquia absolutista e a separação conceitual entre colônias de povoamento e colônias de exploração, as realidades sociais e suas múltiplas dinâmicas perdem importância, criando uma relação dicotômica em que as colônias simplesmente se submetem ao poder central produzindo bens variados e entregando metais preciosos que sustentam a metrópole e seu Império, enquanto essa emite ordens e regulamentos unilateralmente e de caráter inquestionável.
Entretanto, ao se admitir a existência de uma Monarquia compósita e de pactos em que se estabelecem acordos de interesses múltiplos entre governados e governantes, as dinâmicas internas de cada parte do Império passam a ter importância e reflexo em suas próprias estruturas, que sofreram mutações contínuas.
No capítulo sobre as estruturas administrativas e jurídicas do Atlântico Ibérico, Raúl Fradkin e Marco Antonio Silveira apontam, a partir das definições doutrinárias de Juan Solórzano Pereira, duas possibilidades de integração pactual e suas implicações legais no reino da Espanha. Na primeira forma, denominada “união acessória”, o território anexado passa a ser regido pelas instituições e leis da coroa. Os habitantes passam a ter os mesmos direitos e deveres que outros cidadãos de Castela, mas suas instituições representativas anteriores a conquista não são reconhecidas, apesar de poderem ser anexadas e reinterpretadas, como foi o caso de muitas relações da coroa com as lideranças nativas das Índias Ocidentais. Na segunda forma, chamada “aeque principaliter”, as regiões incorporadas mantêm suas leis, instituições e privilégios, sendo consideradas como unidades com capacidade de relativa autodeterminação.
Ao governar dentro dessa dinâmica, fazendo orbitar em torno do trono diversas ilhas de poder com necessidades, projetos, instituições e costumes próprios, os autores apontam para a essencialidade da prudência do monarca. Inserido em sociedades tradicionais e hierarquizadas, os monarcas deviam legislar respeitando os diversos grupos sociais dos quais dependia para sustentar seu poder, tomando cuidado com inovações que ferissem interesses de deus apoiadores.
Além disso, suas ordenanças não podiam desrespeitar as regiões que faziam parte do reino através da “aeque principaliter”, visto que essas tinham suas instituições, leis e privilégios. E ainda deve ser levada em consideração a existência de conselhos e tribunais que faziam apreciações prévias das matérias de Estado antes do Rei dar a palavra final sobre os assuntos, muitas vezes seguindo as instruções que lhe eram dadas.
Ademais, a Igreja Católica também foi uma ilha de poder que integrou o Império e muitas vezes entrou em franco conflito com os interesses da monarquia, a obrigando a reavaliações da política de Estado, como fica patente na polêmica de Las Casas e Montesinos. É possível resumir, portanto, que a prudência de governo exigida do monarca envolvia “respeitar os limites do direito divino e natural, da tradição e dos privilégios, consultando prudentemente secretários, conselheiros, magistrados, governadores etc. Essa atuação prudente era o que, segundo a doutrina, distinguia o monarca do tirano.”
Nunca é demais, e os autores deixam claro esse aspecto, frisar a importância do pensamento teológico da escolástica tardia e a ligação umbilical entre a Igreja e o Estado na organização da administração e justiça. Sob o ambiente dos encontros multiétnicos que marcam a primeira modernidade com desafios intelectuais às doutrinas tradicionalmente aceitas, a Escola de Salamanca teve papel de destaque na formulação teórica que conciliou a multiplicidade de realidades sociais e políticas com a existência de uma lei natural apreendida pela razão que sedimenta a existência de uma humanidade comum:
A partir da natureza comum dos homens, a Escola Salmantina sustentou a igualdade da soberania dos povos colonizados em relação à autoridade dos reinos europeus e do Papa. Assim, por meio de uma interpretação tomista, esses autores puderam desenvolver princípios para a nova ordem internacional em ascensão. Puderam, então, se debruçar sobre a guerra justa, a escravidão e os limites ao poder dos reinos europeus sobre os novos povos […] No entanto, com base em tal diversidade eles não instauraram um relativismo em que o que a cultura realiza está certo e nenhuma outra pode interferir. Ao contrário, exatamente por causa da razão natural algumas condutas não poderiam ser toleradas – independentemente de quem as realizasse, contra quem fossem feitas ou em que terras fossem cometidas.[5]
A escola salmantina também teve forte participação na tensão que os autores apontam entre a “arte de governo” e a “arte de Estado”. A primeira relacionada ao bem comum, onde a principal atribuição do Rei é organizar o Estado para a manutenção da ordem a partir da ação prudente, e a segunda ligada à manutenção e expansão dos domínios territoriais e de outros povos. A ideia de lei natural e soberania dos povos sustentada pelos escolásticos os colocava em franca oposição aos defensores da razão de estado e suas ações de exceção que muitas vezes feriram a dignidade humana.
Indo além e abrindo uma fértil conexão entre as missões cristãs e a estrutura administrativa colonial, a observação de Anthony Pagden em sua obra Lords of all the world sobre a absorção cristã do ideal romano de civilizar o mundo a partir da conversão, leva a uma ligação inseparável entre a igreja e os poderes temporais, sendo que a conversão só poderia ser completada com uma análoga transformação política e cultural.[6]
A ideia apresentada por Pagden elucida algumas das dinâmicas sociais e religiosas do novo mundo descritas por Maria Cristina Bohn, Leandro Karnal e Alexandre C. Varella, onde a evangelização envolvia a instrução europeia dos indígenas, mudanças na organização do trabalho e a nova divisão em pueblos e repartimientos pela idealização de uma República dos Índios.
IV
Apesar de problemas pontuais como no texto escrito por Maria Cristina Bohn e Leandro Karnal que se propôs a explicar o tripé da conquista e simplesmente delineou os projetos conflitantes entre a Igreja e o Estado, entre o clero secular e o regular e entre as próprias ordens religiosas, deixando de falar da utopia da proeminência social (fama) e a utopia da fortuna, que também guiaram os projetos de conquista e criaram diversas tensões que demonstram a inexistência de um bloco coeso de projetos entre os invasores; Apesar, também, do texto escrito por Anderson Roberti e Luis Guilherme não solucionar o que seria um conceito de criollos apropriado para englobar as dinâmicas sociais e múltiplas identidades nascentes, visto que de lugar de nascimento e ascendência os autores simplesmente modificaram para “grupos que abarcam os descendentes de espanhóis cujo centro da vida social e econômica se encontrava na América.” A ascendência e o lugar permanecem no conceito, passando simplesmente por uma reforma paliativa. Talvez a melhor opção fosse o abandono definitivo de seu uso como ferramenta analítica das dinâmicas sociais (um conceito meta-histórico), para simplesmente um conceito histórico usado pelos agentes no tempo. O maior problema permeia todos os textos e o próprio projeto maior apresentado na introdução.
A conflituosidade dialética das relações sociais, marcadas pela consciência do encontro e uma mudança epistemológica proporcionadas pela mobilidade em uma unidade geográfica nuclear denominada arbitrariamente como Oceano Atlântico, um mar com variadas rotas que possibilitaram encontros e intercâmbios constantes entre diversas regiões com histórias interligadas e mutuamente influenciadas, são insuficientes para uma análise substantiva dos processos de mudança simbólica e existencial das sociedades humanas que participaram da nova era ecumênica no atlântico.
As ferramentas propostas, principalmente a da conflituosidade das relações sociais que força transformações, colocam as metamorfoses culturais e religiosas em uma condição semelhante à de moléculas de elementos químicos distintos que se chocham aleatoriamente, formando reações imprevistas. Se há uma estrutura e um processo que explique o desenvolvimento do capitalismo e a economia mundo europeia, também é necessário admitir uma estrutura formadora de símbolos marcada pela metaxo platônica.
Uma tensão entre a percepção de desordem da existência e a busca por um fundamento transcendente que ilumine as relações temporais.
Em outras palavras, uma tensão entre duas estruturas temporais, uma simbolizada como “eterno” e “perfeito” e outra como “temporal” e “imperfeito”, o que é aceitável pressupor sem ignorar as relações materiais, visto que Antoine Prost, em Doze lições sobre a história, ao falar sobre a pluralidade de tempos de Braudel afirma que “F.Braudel não se deixa ludibriar; de fato, melhor do que ninguém, ele conhecia a pluralidade ilimitada dos tempos da história”[7]. Admite-se então um ser humano que, ao mesmo tempo em que trabalha na natureza para abastecer suas necessidades, formando estruturas sociais, busca um sentido para a existência desenvolvendo símbolos para suas experiências que também ordenam a sociedade.
É a partir desses pressupostos que se torna possível fazer uma análise substantiva das relações dialéticas entre as diversas estruturas simbólicas nos encontros do novo mundo na primeira modernidade. Em A nova ciência da política, Eric Voegelin faz a seguinte constatação sobre os símbolos auto interpretativos das sociedades humanas:
A sociedade é iluminada por um complexo simbolismo, com vários graus de compactação e diferenciação — desde o rito, passando pelo mito, até a teoria — e esse simbolismo a ilumina com um significado na medida em que os símbolos tornem transparentes ao mistério da existência humana a estrutura interna desse pequeno mundo» as relações entre seus membros e grupos de membros, assim como sua existência como um todo. […] os símbolos exprimem a experiência de que o homem é inteiramente homem em virtude de sua participação em um todo que transcende a sua existência particular, em virtude de sua participação no xynon, o comum, na expressão de Heráclito, o primeiro pensador ocidental que desenvolveu esse conceito. [8]
Essa auto iluminação das sociedades a partir de símbolos que expressam um sentido da existência para além de suas realidades concretas também implica numa organização política representativa própria. Eric Voegelin distingue a “representação elementar”, relativa à possibilidade de o povo governado participar das instituições políticas na qual estão inseridos para fazer valer suas vozes e desejos, e a “representação existencial” que está além de mecanismos burocráticos e significa a capacidade refletir a autocompreensão do povo governado de seus lugares na ordem do cosmos. Seria tanto o caso da importância dos Pajés, Caraíbas e Chefes na américa portuguesa como lideranças políticas e mantenedores das tradições e crenças, quanto de outras estruturas sacerdotais ligadas ao exercício do poder político na américa espanhola, como também das Monarquias Católicas, descritas anteriormente como umbilicalmente ligadas a Igreja, e a necessidade de o monarca governar com prudência respeitando a lei divina, a lei natural e recebendo legitimação do poder Papal.
Nesse sentido, apesar dos habitantes das américas poderem usufruir de direitos e deveres da estrutura política formalmente estabelecida por Castela, a representação existencial não se concretiza, o que implica numa imposição violenta de valores através de uma relação de poder desigual. Voegelin é categórico ao afirmar que “nem todas as sociedades são boas, e a tentativa de imitar o tipo ocidental acarreta mudanças revolucionárias que só se podem trazer, talvez, através de meios dúbios […] pode ser uma forma terrível de governo para um país africano ou asiático”.[9]
Portanto, um encontro entre culturas e percepções diversas marcado pela interpretação recíproca a partir de símbolos próprios em que havia trocas legítimas de entendimento em processos de diferenciação, como fica evidente nas mudanças sofridas pelas missões católicas, nas formas de manutenção das tradições e agência indígena e no nascimento de identidades locais miscigenadas num verdadeiro ecúmeno cultural.
Essas dinâmicas foram aglutinadas pela ação da administração e justiça da Monarquia que buscava organizar uma multiplicidade de estruturas simbólicas sob sua égide em um ecúmeno pragmático e jurisdicional[10] dominador que, apesar das reformas administrativas, não representou existencialmente os habitantes do vasto império, marcando uma nova era ecumênica no atlântico ibérico fadada ao rompimento por forças locais, pois “se um governo não é senão o representante no sentido constitucional [elementar], cedo ou tarde um governante representativo no sentido existencial porá fim a isso”[11].
Bibliografia
COLOMBO, Cristóvão. Carta ao Papa Alexandre VI(fevereiro de 1502). Apud TODOROV, Tzvetan. A conquista da América: a questão do “outro”.
Felipe Fernámdez-Armesto, “Los imperios em su contexto global, c.1500-1800”. In: Debates y Perspectivas. Cuadernos de Historia y Ciencias Sociales (“Las tinieblas de la memoria. Una reflexión sobre los imperios em la Edad Moderna”, coord.. Manuel Lucena Giraldo), n. 2, sep.2002.
Jorge Cañizares-Esguerra, Luiz Estevam de O. Fernandes, Maria Cristina Bohn Martins (org). As Américas na Primeira Modernidade (1492-1750). Curitiba, Editora Primas, 2017-2018, volumes 1 e 2.
PAGDEN, Anthony. Lords of all the wolrd: Ideologies of empire in Spain, Britain, and France, 1500-1800. Yale University Press, 1995.
PROST, Antoine. Doze lições sobre a história. São Paulo: Autêntica, 2009.
SAHLINS, Marshall. Ilhas de História. 1ª ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1990, pp. 185-187.
Sir Frederick Pollock and Fredric Willian Maitland, The history of English Law: Before the Time of Edward I [A história do Direito Inglês: Antes de Eduardo I] (2 volumes; 2ª edição; Cambridge: Cambridge University Press, 1968), I, 1.
SOUZA, Elden Borges. A fundamentação ética dos Direitos humanos em Tomás de Aquino: pessoa humana, bem comum e Lei natural. 2017. 156 f. Dissertação (Mestrado)
– Universidade Federal do Pará, Instituto de Ciências Jurídicas, Belém, 2017. Programa de Pós-Graduação em Direito. Disponível em:
<http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/9787>.
VOEGELIN, Eric. A nova ciência da política. Brasília: UNB, 1982.
VOEGELIN, Eric. Published Essays, 1953-1965. Columbia: University of Missouri Press; First edição (24 abril 2000.
VOEGELIN, Eric. Ordem e História -Vol. IV: A era ecumênica. São Paulo: Edições Loyola; 2ª edição, 2010.
[1] Sir Frederick Pollock and Fredric Willian Maitland, The history of English Law: Before the Time of Edward I [A história do Direito Inglês: Antes de Eduardo I] (2 volumes; 2ª edição; Cambridge: Cambridge University Press, 1968), I, 1, Capítulo 1, p.3 “Such is the unity of all history that any one who endeavours to tell a piece of it must feel that his fi rst sentence tears a seamless web”
[2] COLOMBO, Cristóvão. Carta ao Papa Alexandre VI(fevereiro de 1502). Apud TODOROV, Tzvetan. A conquista da América: a questão do “outro”, op.cit., p. 11.
[3] Felipe Fernámdez-Armesto, “Los imperios em su contexto global, c.1500-1800”. In: Debates y Perspectivas. Cuadernos de Historia y Ciencias Sociales (“Las tinieblas de la memoria. Una reflexión sobre los imperios em la Edad Moderna”, coord.. Manuel Lucena Giraldo), n.2, sep.2002, pp. 32-33.
[4] SAHLINS, Marshall. Ilhas de História. 1ª ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1990, pp 185-187.
[5] SOUZA, Elden Borges. A fundamentação ética dos Direitos humanos em Tomás de Aquino: pessoa humana, bem comum e Lei natural. 2017. 156 f. Dissertação (Mestrado)- Universidade Federal do Pará, Instituto de Ciências Jurídicas, Belém, 2017. Programa de Pós-Graduação em Direito. Disponível em: <http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/9787>.
[6] PAGDEN, Anthony. Lords of all the wolrd: Ideologies of empire in Spain, Britain, and France, 1500-1800. Yale University Press, 1995, pp.38-39.
[7] PROST, Antoine. Doze lições sobre a história. São Paulo: Autêntica, 2009, p.112.
[8] VOEGELIN, Eric. A nova ciência da política. Brasília: UNB, 1982, p.33.
[9] VOEGELIN, Eric. Published Essays, 1953-1965. Columbia: University of Missouri Press; First edição (24 abril 2000), pp.16-187.
[10] VOEGELIN, Eric. Ordem e História -Vol. IV: A era ecumênica. São Paulo: Edições Loyola; 2ª edição, 2010, p. 275.
[11] VOEGELIN, Eric. A nova ciência da política. Brasília: UNB, 1982, p. 45.
Autores: Davi Schelotag de Moraes e Leonardo Delatorre Leite