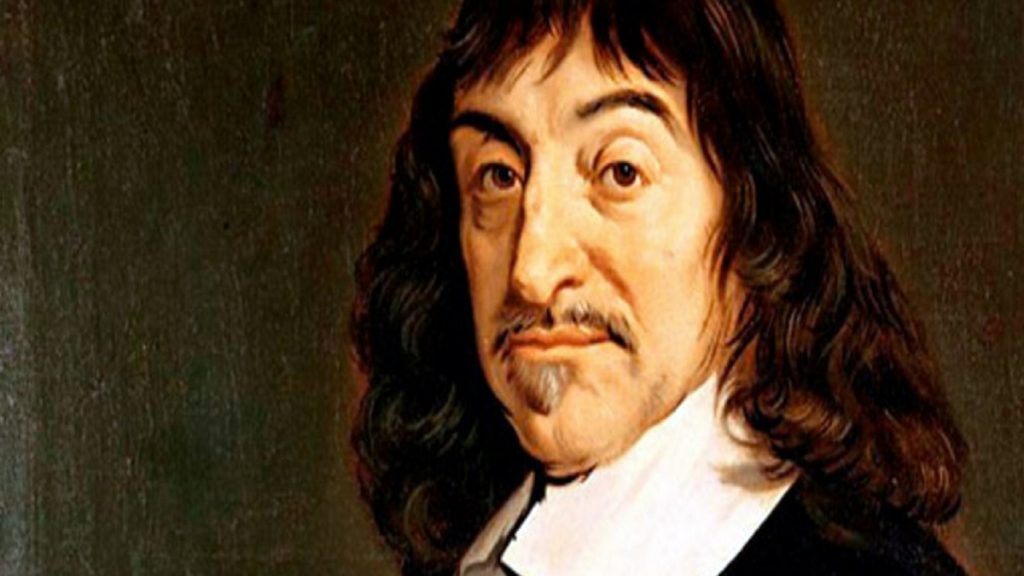Numa primeira análise, é premente ressaltar que as reflexões acerca do problema do erro apresentam um aspecto teleológico no sistema metafísico cartesiano, qual seja: “é preciso saber em quais condições ocorre o erro para que possamos avaliar a quem será atribuída a responsabilidade pelo conhecimento falso” (SILVA, 1993, p. 85). Conforme demonstrado pela terceira meditação, Deus é a razão de ser das verdades, isto é, o fundamento da verdade, a garantia das representações claras e distintas. A partir de um argumento ontológico e do procedimento quantitativo de análise das ideias, Descartes deduz a existência de Deus e sua absoluta veracidade[1], ou seja, o Criador não é um enganador. “Daí é bastante evidente que ele não pode ser embusteiro, posto que a luz natural nos ensina que o embuste depende necessariamente de alguma carência” (DESCARTES, 1979, p. 112). Nesse sentido, a indução ao erro representaria uma carência em Deus.
Desse modo, o erro não apresenta ligações com o Ser, que é plenitude e positividade, mas está relacionado ao não-ser. Destarte, o erro não apresenta positividade, visto que é uma ausência. Além disso, Descartes distingue entre dois tipos de não-ser, a saber: a mera negação e a privação. Diante disso, é importante ressaltar que o pensador racionalista se afasta das explicações agostinianas e das chamadas “soluções metafísicas”, atreladas às tentativas cristãs de desculpar a Majestade divina do mal. Para Agostinho, o mal é uma carência, ou seja, uma corrupção que, enquanto ausência de Ser, não possui uma causa. De certa forma, a construção do raciocínio cartesiano afirma ser a resposta supracitada insuficiente para a pretensão de fundamentação segura do saber.
Para Descartes, o erro não é uma mera negação, é uma privação, isto é, uma falta, um defeito, uma imperfeição positiva que se expressa na ausência de algo que eu deveria ter. Portanto, como o erro não constitui uma negação, ele precisa de uma causa e de uma justificativa[2]. Antes de adentrar numa explicação propriamente satisfatória acerca do problema do erro, o filósofo racionalista cogita a hipótese de que talvez haja uma vantagem no errar, já que os homens não conhecem os fins insondáveis de Deus e, por certo, não apresentam uma visão holística do Universo. Em sua soberania, o Criador pode se valer do erro para fins proveitosos e legítimos. Não obstante, tal resposta, de caráter eminentemente agostiniano, não condiz com a pretensão cartesiana de estabelecer um fundamento sólido para as ciências.
Em vista disso, o autor, confirmando que Deus não pode ser responsabilizado pelo erro, procura em si mesmo a causa do erro, partindo para uma investigação concernente a um gênero específico de representações, a saber: os juízos. Em termos gerais, o juízo consiste basicamente numa afirmação ou negação acerca de uma ideia e apresenta suas origens na confluência de duas faculdades, o entendimento e a vontade. A primeira engloba o poder de conceber ideias e é limitado. Não obstante, sua limitação não implica imperfeição, pois o entendimento, em seu gênero, é perfeito. Dentro dos seus limites, o poder de conceber ideias é perfeito e não possui uma falha intrínseca, sendo que sua finitude é uma mera negação. Ainda que aperfeiçoado, o entendimento nunca pode ser infinito, pois a infinitude é própria do Criador. Além disso, para fins de esclarecimento, pode-se afirmar que a finitude não é causa propriamente dita do erro; é uma condição necessária, mas não uma condição suficiente. Por sua vez, a faculdade da vontade, compreendida enquanto o poder de afirmar ou negar, é infinita, não possui, em si mesma, limitação, privação ou negação. O fato de a vontade se debruçar sobre o entendimento é um bem, uma perfeição.
Ademais, é importante destacar a unidade da vontade, caracterizada pela simplicidade e indissociabilidade. A faculdade da vontade depende da potência de dois contrários: o afirmar e o negar. A ausência de um dos contrários descaracteriza a essência da vontade. Reafirmando a perfeição da vontade, Descartes assegura que tal faculdade, em sentido formal, tipifica a “imagem e semelhança de Deus” e, portanto, tomada isoladamente, não constitui a causa do erro[3]. Diante disso, o que representa a privação que constitui o erro? “Donde nascem, pois, meus erros”? O erro está na defasagem entre o entendimento e a vontade.
O erro é devido, portanto, à diferença de extensão entre o entendimento e a vontade. O entendimento é limitado, e nem todas as representações são concebidas clara e distintamente. Mas sendo a vontade ilimitada, ela formula juízos também acerca do que não é claro e distinto. (SILVA, 1993, p. 87)
Nesse sentido, o erro provém do mau uso do livre-arbítrio[4], isto é, do mau uso da faculdade da vontade. A privação que constitui o erro reside no estender da minha vontade ao campo das representações obscuras e confusas. Nas palavras de Descartes (1979, p. 120): “E é neste mau uso do livre arbítrio que se encontra a privação que constitui a forma do erro”. Não obstante, Deus poderia ter criado o homem de tal forma que nunca errasse e, apesar disso, permanecesse livre? O autor oferece duas alternativas, quais sejam: 1º) O Criador, enquanto causa atual e contínua, fornece aos homens a inteligência clara e distinta nas ocasiões em que precisarem formular um juízo ou, 2º) Deus, em sua soberania, concede, de forma automática e imediata, a memória que assegure ao homem uma resolução de não julgar acerca de representações obscuras e confusas. Eis as duas alternativas apresentadas por Descartes. Apesar de possíveis, o pensador racionalista apresenta duas respostas, sobretudo, com o intuito de reforçar a não responsabilidade de Deus pelo erro, de atestar o princípio da veracidade divina e, por fim, de assegurar efetivamente a Majestade divina como garantia absoluta das representações claras e distintas.
A primeira resposta, de certa forma, retoma as já citadas “soluções metafísicas”, clássicas da teodiceia, e afirma que, se eu estivesse de fato sozinho, realmente a oferta constante de Deus de um entendimento claro e distinto faria sentido. Todavia, a pluralidade e a diversidade do universo implicam múltiplas formas de saber e graus distintos de conhecimento. Desse modo, não é melhor para o todo que as partes sejam imperfeitas? Um entendimento claro e distinto das partes acarretaria decréscimo no Universo. Não obstante, a resposta supracitada não é plenamente satisfatória para o sistema metafísico cartesiano, sendo imprescindível, portanto, uma explicação mais próxima da necessidade de uma fundamentação segura e verdadeira para o conhecimento.
A segunda resposta reside basicamente no destaque ao hábito e ao método. Como Deus não dotou o homem de uma memória automática e imediata de abstenção do juízo em relação às ideias que não são claras e distintas, cabe aos indivíduos o desenvolvimento, mediante o hábito, dessa memória. Eis o caminho para evitar o erro: “a limitação voluntária da capacidade infinita da vontade” (SILVA, 1993, p. 87). Tal limitação voluntária tipifica uma tentativa de equalizar o entendimento e a vontade e representa uma das faces da sabedoria, indispensável para a liberdade, caracterizada pela dependência interna do saber verdadeiro. Em vista disso, as conclusões primordiais são: a capacidade de enganar é uma carência; o erro e o engano estão intimamente ligados com a negatividade do ser finito; o erro, enquanto ausência do conhecimento, advém da minha finitude. Por fim, a quarta meditação conclui ressaltando, de forma categórica, o princípio da veracidade divina e a validade das representações claras e distintas.
Referências bibliográficas
DESCARTES, René. Meditações metafísicas. Tradução de Jacob Guinsburgh e Bento Prado Jr. Coleção Os pensadores. 2. Ed. São Paulo: Abril Cultural, 1979.
SILVA, Franklin Leopoldo e. Descartes: a metafísica da modernidade. São Paulo: Moderna, 1993.
[1] “ Um ser soberanamente perfeito não pode promover a falsidade e, portanto, não pode me levar a ter como verdadeiro o que de fato não é. Disso decorre que Deus é fundamento da verdade, ou seja, todas as representações que se me apresentarem metodicamente como claras e distintas estão garantidas por Deus, verdade suprema e razão de ser de todas as demais” (SILVA, 1993, p. 68).
[2] “Assim, conheço que o erro enquanto tal não é algo de real que dependa de Deus, mas que é apenas uma carência; e, portanto, que não tenho necessidade para falhar, de algum poder que me tenha sido dado por Deus particularmente para esse efeito, mas que ocorre que eu me engane pelo fato de o poder que Deus me doou para discernir o verdadeiro do falso não ser infinito em mim. Todavia, isto ainda não me satisfaz inteiramente; pois o erro não é uma pura negação, isto é, não é a simples carência ou falta de alguma perfeição que não me é devida, mas antes é uma privação de algum conhecimento que eu deveria possuir”(DESCARTES, 1979, p. 116).
[3] Acerca disso, afirma o pensador racionalista: “De tudo isso reconheço que nem o poder da vontade, o qual recebi de Deus, não é em si mesmo a causa de meus erros, pois é muito amplo e muito perfeito na sua espécie; nem tampouco o poder de entender ou de conceber, não há dúvida de que tudo o que concebo, concebo como é necessário e não é possível que nisso me engane” (DESCARTES, 1979, p. 119).
[4] No texto em questão, livre-arbítrio e vontade são sinônimos e não representam a genuína liberdade. O poder de afirmar ou negar é tão somente uma pré-condição da liberdade.