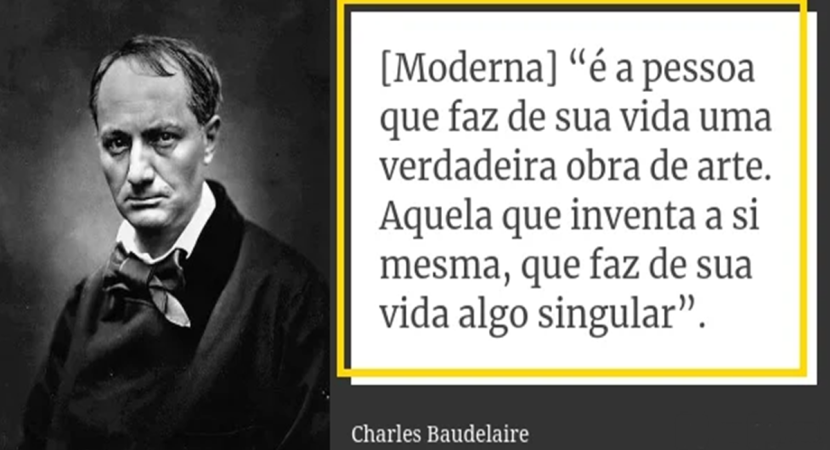Em seu texto “Para uma pedagogia da metáfora”, José Paulo Paes reforça uma compreensão da metáfora a partir de sua capacidade heurística de recondução ao real. Desse modo, o elemento metafórico possibilitaria uma redescoberta do real, sobretudo, em função de sua potencialidade de redescrição do mundo.
Mais do que uma simples figura retórica, a metáfora é um fenômeno da linguagem, um procedimento que utilizamos não somente para embelezar discursos, mas para nos referirmos e relacionarmos com o mundo. A metáfora cria figuras através de palavras para se reportar ao que o espirito humano vê ou sente e, no entanto, não há nome; torna clara e imprecisa a própria pretensão arbitrária da linguagem de tudo abarcar em seu interior. (BRAGA, 2018, p. 3)
Em vista disso, é importante frisar o entendimento do pensador francês Paul Ricoeur, em sua obra A Metáfora viva, acerca do ponto de vista supracitado. Em termos gerais, Ricoeur concebe uma teoria filosófica, constatando uma espécie de tensão estruturante no tocante à verdade poética. Trata-se de uma concepção tensional que favorece um caminho para uma ligação de interanimação entre o discurso poético e o discurso especulativo. Num primeiro momento, o escritor francês afirma que o elemento comum da Retórica e Poética de Aristóteles reside mais propriamente na especificação da metáfora como “epífora do nome”.
Dessa forma, “a metáfora é o transporte a uma coisa de um nome que designa uma outra, transporte quer do gênero à espécie, quer da espécie ao gênero, quer da espécie à espécie ou segunda a relação de analogia (XXI, 7, Poética, 1457b 6-9)” (RICOEUR, 2000, p. 19). Em virtude do que foi apresentado, Ricoeur postula três hipóteses para o esclarecimento da concepção de metáfora como epífora do nome. A primeira consiste numa espécie de “anfibologia da metáfora”, segundo a qual a constituição de uma metáfora pressupõe uma dualidade de termos e ideias ou, até mesmo, um par de relações dentro do qual impera uma espécie de transposição. A segunda reside no que o autor denomina de “transgressão categorial”, que desempenha uma função de intermediação entre descrição e redescrição. Trata-se da função heurística da metáfora. Por fim, temos a representação de uma “metáfora inicial”, ou melhor, de uma metáfora que se encontra nas raízes e prolegômenos da linguagem, da hierarquização conceitual constituída. Ricoeur afirma que suas hipóteses se encontram bem fundamentadas nas citações de Aristóteles em sua já mencionada obra Poética (XXII, 17, 1459a 4-8): “Construir bem metáforas é perceber bem as semelhanças”. Nesse sentido, pode-se dizer que um dos traços do “metaforizar bem” reside mais propriamente na habilidade de estabelecer relações pertinentes de semelhança.
Com base nisto, discorre o autor francês: “O metaforizar, isto é, a dinâmica da metáfora, repousaria assim na apercepção do semelhante. Estamos assim perto da nossa hipótese mais extrema: isto é, a ‘metafórica’ que transgride a ordem categorial é também aquela que a engendra” (RICOEUR, 2000, p. 39). Destarte, é possível afirmar que a delimitação do que vem a ser uma metáfora envolve, necessariamente, um ideal de transposição seguido pela percepção de relações de semelhança. No entanto, Aristóteles, em seu escrito A Retórica, estabelece uma definição de metáfora para além dos termos de epífora ou transposição. A metáfora agora seria compreendida em termos de comparação, mais especificamente, como uma “comparação abreviada”. O paralelo comparação-metáfora aponta para o caráter instrutivo do elemento metafórico, baseado, fundamentalmente, na transparência e na “captação de uma identidade na diferença de dois termos” (RICOEUR, 2000, p. 44). Sob essa perspectiva, tanto no quesito da epífora quanto no aspecto da comparação, podemos verificar a persistência atribuída à ligação entre dois termos, relação esta fruto da percepção de elos de semelhanças. É justamente nessa perspectiva que reside a função instrutiva da metáfora, de sua capacidade de redescrição do mundo, que, por sua vez, fomentaria uma atitude de repensar o real. Ao reconduzir ao real, a metáfora seria uma forma de conhecimento[1]. “Ora, a função da metáfora é instruir por uma aproximação súbita entre coisas que parecem distantes” (RICOEUR, 2000, p. 58).
Diante dos fatos supracitados, podemos afirmar que os elementos centrais da constituição de uma metáfora são a figuração, a representação, a transposição de sentido e a relação de semelhança. Tais componentes apontariam para uma figura de linguagem que configuraria uma espécie de “comparação abreviada”, dotada de uma capacidade reveladora do real. A metáfora desempenharia, assim, uma força heurística de redescoberta do real ao fomentar uma aproximação de duas realidades incialmente opostas faticamente, ou seja, de duas coisas que não se encontram expressamente associadas na realidade. As compreensões acima apresentadas conduzem a uma visão de atribuição de um “peso ontológico” às imagens poéticas. Ricoeur sustenta esta perspectiva a partir de uma teoria da denotação generalizada, segundo a qual o jogo de semelhança envolve a instituição de novas proximidades não mais restritas somente às significações, visto que as relações de semelhanças englobariam agora as aproximações entre as coisas mesmas.
Ricoeur elabora uma teoria da denotação generalizada, que incorpora a suspensão da referência do discurso descritivo como condição negativa para a liberação de uma referência mais fundamental cuja explicitação é tarefa da interpretação […] Ricoeur visa mostrar a referência metafórica em ação: o jogo da semelhança implica a instauração de uma nova proximidade não só entre significações até então afastadas entre si, mas também entre as coisas mesmas, o surgimento de uma nova maneira de ser. (BRAGA, 2006, p. 70)
Num primeiro momento, a denotação se encontra relacionada com o sentido de “referência”. Nesse sentido, as operações concebidas como eminentemente simbólicas, verbais e não verbais, são modificadas e convertidas em única função, a saber: a referencial. Ricoeur almeja uma afastamento em relação à acepção de representação como uma mera cópia. Representar designaria algo mais complexo, seria “um dos modos pelos quais a natureza torna-se um produto da arte e do discurso” (RICOEUR, 2000, p. 356). Tudo isto apontaria para uma teoria da referência metafórica, mais propriamente da capacidade que a linguagem poética possui para redescrever o real. Ademais, para o escritor francês, as imagens poéticas e as metáforas não representam somente meros ornamentos para a produção poética. Longe de ser um mero “acréscimo” ou ornamento da linguagem, a metáfora, em função de seu valor instrutivo, tipifica um elemento constitutivo central dos textos poéticos. Verifica-se uma ontologia implícita a uma teoria qualificada como filosófica, tensional e semântica da metáfora. De maneira análoga, José Paulo Paes ressalta o valor heurístico da metáfora no exercício de sua função de redescoberta do mundo. Para além do âmbito e dos limites da realidade tida como factual, a metáfora conduz o homem à realidade do possível.
As imagens de um poema vêm a ser os sentidos compostos pelo texto; elas têm o poder de explorar de maneira muito intensa os significados referidos, de forma a sempre agregar sentidos, sem nunca excluí-los […] a função da imagem poética é suscitar no leitor significados que ela já conhece, organizando-os de tal forma a propor novos significados que ele já conhece de tal forma a propor novos sentidos […] o poema cria imagens ao aproximar elementos, agregando o que é característico de cada um, e sugerindo novos sentidos […] a gama de significações proposta pelas imagens do texto estimula um olhar diferenciado para a realidade. Ao apresentar o mundo sob a ótica da poesia, ou seja, numa perspectiva complexa e plural, por fugir do olhar acostumado do cotidiano, o texto é capaz de apresentar o mundo de uma forma totalmente nova […] a imagem poética sempre recorre ao leitor para existir; ela ´so é plural porque o leitor o é, porque as significações que reverbera em seu destinatário são variadas. (KLAUCK, 2013, pp. 189-190)
José Paulo Paes, em seu ensaio Por uma Pedagogia da Metáfora, discorre acerca da dinâmica do processo metafórico, retomando Aristóteles, especialmente, para afirmar que o processo em questão englobaria um desvio do “sentido ordinário” das palavras acompanhado, num segundo momento, por uma “admirativa estranheza que tais desvios suscitam”. Em última instância, o dinamismo da metáfora suscitaria um nexo transitório entre o real e o imaginário. O “pensar por imagens” implica operações da mente que se aproximam do que seria denominado por Lévi-Strauss de “pensamento selvagem”, que estaria relacionado às particularidade irredutíveis das impressões, à singularidade das percepções.
O pensamento selvagem se exprime por imagens concretas que, embora estejam sempre rentes do sensível, da singularidade de percepção, nem por isso deixam de alcançar a generalidade da conceituação, donde Lévi-Strauss o descrever “como um sistema de conceitos imersos nas imagens”. É, ademais, um tipo de reflexão que opera por bricolage, ou seja, pela recombinação de fragmentos de materiais culturais já elaborados, conforme se pode ver na mítica, onde elementos de um determinado mito ou mitemas ressurgem com muita frequência, diferentemente agrupados, em outros mitos. Nesse particular, não seria despropositado ver também na metáfora uma forma de bricolage. À diferença da nomeação propriamente dita, que cria novos nomes para novas coisas (“automóvel”), a metaforização as designa por uma recombinação de itens lexicais preexistentes (“arranha-céu”). (PAES, 2008, p. 112)
Ademais, um aspecto frisado por José Paulo Paes reside na chamada “quebra da continuidade lógica da frase pelo enigma da metáfora” responsável por ocasionar os efeitos de surpresa e mistificação frisados por Aristóteles. Algo reiterado pelo poeta em análise reside na explicação acerca do modo pelo qual , no processo de “miniaturização poética do mundo”, é eminente e proveitoso se utilizar de metáforas cujas significações devem ser qualificadas, inicialmente, por um certo ar “estrangeiro”, isto é, “desconhecido”, estranho aos sentidos e aos empregos usuais e práticos da palavra. A duplicidade constitutiva da metáfora, expressa, sobretudo, em sua “labilidade dinâmica”, possibilitaria e favoreceria a unificação da presença e ausência em uma ocorrência verbal. “Mais que isso, um estatuto de duplicidade passa a consorciar labilmente entre as coisas e os seres, o humano e o não-humano” (PAES, 1997, p. 17). No entanto, o que mais nos interesse para o presente trabalho acadêmico reside na comparação que José Paulo Paes concebe entre o mecanismo própria da metáfora com a brincadeira infantil do esconde-esconde. Do mesmo modo que o jogo lúdico, a metáfora despertaria, suscitaria e fortaleceria no leitor um interesse que “não se esgota na primeira vez; prolonga-se e aumenta nos ulteriores encobrimentos/descobrimentos” (PAES, 1997, p.13). A poesia seria uma “metáfora do mundo”, especialmente, em razão de sua capacidade de “revelar o universal no particular”. Eis a relação entre metáfora e descoberta/redescoberta do mundo.
Em virtude do foi apresentado, tendo em vista o entendimento de metáfora em função de sua capacidade de fazer o homem “repensar o real”, da força heurística metafórica de recondução ao real, bem como das noções de poesia como “forma de controle do mundo” e das aproximações entre poética e ontologia, avaliaremos agora as conexões de tais compreensões com a obra do poeta francês Charles Baudelaire, mais especificamente, a partir da estética das correspondências, da qualificação da natureza como uma linguagem e da caracterização do poeta como um “decifrador”. Para tal, ele e vale de metáforas sinestésicas.
A Natureza é um templo onde vivos pilares
Deixam às vezes vagas falas manifestas;
E o homem nela passa por entre florestas
De símbolos que o olham com olhos familiares.
Tal, longe, longos ecos vagos se respondem
Em uma tenebrosa e profunda unidade,
Tão vasta como a noite e como a claridade,
Assim, perfumes, cores, sons se correspondem.
Há perfumes tão frescos como tez de criança,
Suaves como oboés ou verdes como um prado
– E outros, falseados, ricos, cheios de pujança,
Tendo a expansão de tudo o que é ilimitado,
Que cantam, como o incenso e o âmbar, desabridos,
Os arroubos do espírito e os dos sentidos.[2]
Num primeiro momento, deve-se frisar que Baudelaire realiza uma articulação entre rimas e metáforas, desenvolvendo metáforas a partir de realidades anti-poéticas[3], misturando estilos e imagens de contraste. Ademais, é interessante notar como impera na obra do autor supracitado uma aproximação entre objetos espiritualmente elevados e objetos rebaixados, um tanto quanto grotescos. Nesse sentido, o escritor francês é conhecido como o poeta das contradições (contraste entre Deus e Satã, entre espiritualidade e erotismo, entre o clássico e o moderno. Lucidez criativa x Abertura ao êxtase, evasão, escapismo. Oposição entre a natureza e o artificial). Em virtude do que foi apresentado, conclui-se que a contradição é constitutiva de Baudelaire, que se vale constantemente de oximoros, paradoxos, antíteses e apóstrofes. Em sua obra As flores do mal, o poeta estabelece um contraste entre melancolia romântica e movimento de elevação espiritual. Trata-se de um movimento pendular de oscilação, que expressa uma condição dupla do poeta: poeta maldito x poeta alegorizado, dualidade referente também a uma oposição entre elevação[4] e rebaixamento. Percebe-se, no poema a seguir, uma metaforização e alegorização da grandeza do espírito humano.
Acima das montanhas, acima dos mares
De Nuvens, lagos, matas, vales e vulcões,
Além do sol, além de etéreas vastidões,
Para além dos confins de esferas estelares,
Meu espírito, moves-te com agilidade
E, tal com nadador que na água se arrebata,
Com toda essa viril volúpia que te é inata
Sulcas lépido a tão profunda imensidade.
Voa longe dos miasmas doentios, crassos;
Que no ar superior tu te vás purificar,
E, tal pura e divina bebida, tragar
O fogo claro que enche os límpidos espaços.
Por detrás desses tédios e pesares plenos
Que põem seu peso sobre a existência brumosa,
Venturoso o que pode com asa vigorosa
Voar para campos tão luminosos, serenos;
Seus pensamentos, tal cotovias, miúdas,
Livre impulso empreendem aos céus da manhã
– Sobre a vida ele plana, e entende sem afã
A linguagem das flores e das coisas mudas![5]
Além disso, cabe destacar que, em As flores do Mal, está presente uma exploração rítmica regular, sendo que o poeta explora formas fixas, como o soneto e o verso alexandrino. Quanto à estrutura, os poemas têm uma concatenação e, desse modo, revelam uma lógica interna, uma articulação entre os próprios textos poéticos. Um contraste interessante reside na oposição entre a melancolia romântica e o movimento de elevação espiritual, que também dialoga com a tensão entre recolhimento e extravagância lírica. A temática da melancolia no bojo da produção de Baudelaire foi bem abordada por Jean Starobinski.
Nas Flores do Mal, o lugar do spleen é dominante: não figura nos versos, mas nos títulos. Os poemas intitulados “Spleen”- na seção primeira, “Spleen e ideal”-, sem pronunciar o nome da melancolia, podem ser considerados emblemas ou brasões perifrásticos dela. Dizem-na em outras palavras, em outras imagens: eles a alegorizam- e é difícil decidir se a alegoria é o corpo ou a sombra da melancolia baudelairiana […] Desde suas primeiras tentativas poéticas, Baudelaire já sabia muito a respeito: tinha a experiência subjetiva da melancolia e conhecia os recursos retóricos e iconológicos a que uma longa tradição recorria para interpretá-la. (STAROBINSKI, 2014, p. 16)
Diante dos fatos supracitados, percebe-a força da alegoria presente na temática da melancolia. Outra temática interessante, presente no poema O cisne, reside no “exílio”, ou melhor, no sentimento de perda. Este poema, de caráter nitidamente reflexivo, aborda o homem em condição de exílio (real e/ou metafórico), sobretudo, em função de um descompasso entre o coração e o mundo advindo da experiência da modernização da metrópole e da memória da cidade que o poeta não é mais capaz de se lembrar. Descompasso, estranhamento, a imensidão da vida interior e a grandeza da interioridade [6]humana são temas resgatados e mobilizados constantemente por Baudelaire. O escritor francês também mobiliza temáticas cristãs, como o sofrimento e a redenção. No poema Bendição, a dor aparece como meio purificação e redenção, reiterando, assim, uma lógica puritana do engrandecimento pelo sofrimento.
Não obstante, o que mais nos interessa para a importância da metáfora no bojo da obra de Baudelaire é a capacidade metafórica de redescrição do mundo. A metáfora permitiria uma aproximação de semelhanças não diretamente perceptíveis e, desse modo, possibilitaria uma recondução ao real. A própria Natureza como uma linguagem e o poeta como decifrador partem de uma perspectiva da poesia como uma “metáfora do mundo”. Eis a qualidade soberana do poeta: a apreensão especial da realidade por meio da utilização de metáforas. Por isso a importância da complexidade da estética das correspondências na produção de Baudelaire, que estabelece uma associação entre correspondências horizontais (entre os sentidos e sensações) e as correspondências verticais (dos sentidos ao imaterial, como lembranças e memórias), operando, assim, uma rede de metáforas sinestésicas, mas também de uma “metaforização das recordações”, ampliando a dimensão simbólica da interioridade humana e da atribuição de significados. Quase todas as temáticas abordadas pelos poeta francês ganham uma profundidade significativa em função da potencialidade metafórica de redescrição do real. Veremos como tais ponderações ficam melhor exemplificadas no poema “Um hemisfério numa cabeleira”:
UM HEMISFÉRIO EM UMA CABELEIRA
Deixa-me aspirar durante muito tempo, muito tempo, o odor de teus cabelos e mergulhar neles todo o meu rosto, como um homem com sede na água de uma fonte, e agitá-los com minha mão como um lenço perfumado para dispersar as lembranças no ar.
Se pudesses saber tudo o que vejo! Tudo o que sinto! Tudo o que percebo em teus cabelos! Minha alma viaja sobre esse perfume como a alma de outros homens sobre a música.
Teus cabelos contêm todo um sonho, cheio de velas e mastros; eles contêm os grandes mares para onde as monções me levam, os climas charmosos onde o espaço é mais azul e mais profundo; onde a atmosfera é perfumada pelas frutas, pelas folhas e pela pele humana.
No oceano de tua cabeleira entrevejo um porto formigando de cantos melancólicos, de homens vigorosos de todas as nações e de navios de todas as formas recortando suas finas e melancólicas arquiteturas sob um céu imenso onde se espreguiça o eterno calor.
Nas carícias de tua cabeleira reencontro langores das longas horas passadas sobre um divã, no quarto de um belo navio, embalado pelo imperceptível balanço das águas do porto, entre vasos de flores e bebidas refrescantes.
No ardente ninho de tua cabeleira respiro o odor de tabaco misturado ao ópio e ao açúcar; na noite de tua cabeleira vejo o infinito resplendor do azul tropical; sobre as margens cheias de penugem de tua cabeleira embriago-me com os odores de alcatrão, de almíscar e de óleo de coco.
Deixa-me morder, demoradamente, tuas tranças pesadas e negras. Quando mordisco teus cabelos elásticos e rebeldes parece-me que estou comendo lembranças.
No poema supracitado, vislumbra-se uma prosa rítmica, que discorre, especialmente, acerca de um “devaneio controlado”, mas não integralmente narrativo. Nesse sentido, no que concerne à temporalidade, trata-se de um “presente atemporal”, essencialmente lírico, frisando, desse modo, uma temporalidade substancialmente lírica. É nítido também como o escritor se vale da utilização de anáforas e paralelismos, expressando repetições sonoras e o uso de paronomásia. Deve-se destacar aqui que Baudelaire sai um pouco do aspecto da objetividade da prosa. Do embalo rítmico, ele migra para as imagens, mobilizando correspondências entre o mundo dos sentidos e o mundo espiritual, destacando correspondências horizontais e correspondências verticais, sobretudo, pormeio do Princípio da Analogia e da metaforização das recordações.
Em vista disso, conclui-se apontando o papel central que a metáfora possui no bojo da produção poética de Baudelaire. A metáfora desempenha um papel nuclear numa descoberta/redescoberta do mundo, favorecendo uma redescrição do real, ampliando a dimensão simbólica do homem, operando uma relação entre a poética e a ontologia, bem como uma recondução do olhar para relações de semelhança até então não direta e imediatamente perceptíveis.
REFERÊNCIAS
AMANCIO BRAGA, Felipe. A questão da metáfora entre Ricœur e Derrida. 2019. 126f. Dissertação (Mestrado em Filosofia)- Programa de Pós-graduação em Filosofia da PUC-Rio. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Departamento de Filosofia, 2006.
AMANCIO BRAGA, Felipe. Da dimensão imagética da metáfora em Paul Ricoeur. Análogos, v. 18, n.1, pp. 2-10, 2018.
ARISTÓTELES. Poética. Tradução de Paulo Pinheiro. São Paulo: Editora 34, 2015.
ARISTÓTELES. Retórica. Tradução de Edson Bini. São Paulo: Editora Edipro, 2011.
BAUDELAIRE, Charles. As flores do mal. Tradução e organização de Júlio Castañon Guimarães. São Paulo: Penguin Classics Companhia das Letras, 2019.
DERATHÉ, Robert. Jean-Jacques Rousseau e a ciência política de seu tempo. Tradução por Natalia Maruyama. São Paulo: Editora Barcarolla; Discurso Editorial, 2009.
GOODMAN, Nelson. Languages of Art, an Approach to a Theory of Symbols. Indianapolis: The Bobbis-Merril Co, 1968.
KLAUCK, Ana Paula. “Um passarinho me contou” de José Paulo Paes: As características que constroem um clássico para a infância. Revista Entrelinhas (Unisinos, São Leopoldo), v. 7, n. 2, pp. 188-208, 2013.
PAES, José Paulo. Armazém Literário (Ensaios). Organização e apresentação de Vilma Arêas. São Paulo: Companhia das Letras, 2008.
PAES, José Paulo. Os perigos da poesia e outros ensaios. Rio de Janeiro: Topbooks, 1997. 208p.
PAES, José Paulo. Poesia completa. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. 512p.
RICOEUR, Paul. A metáfora viva. Tradução de Dion David Macedo. São Paulo: Editora Edições Loyola, 2000.
ROUSSEAU, Jean-Jacques. Devaneios do caminhante solitário. Tradução por Jacira de Freitas e Claudio A. Reis. São Paulo: Editora Unesp, 2022.
STAROBINSKI, Jean. A melancolia diante do espelho: três leituras de Baudelaire. Tradução de Samuel Titan Jr. São Paulo: Editora 34, 2014.
[1] Cf. GOODMAN, Nelson. Languages of Art, an Approach to a Theory of Symbols. Indianapolis: The Bobbis-Merril Co, 1968.
[2] BAUDELAIRE, Charles. Correspondências. In: As flores do mal.
[3] Cf. BAUDELAIRE, Charles. Uma carniça. In: As flores do mal.
[4] A noção de elevação do espírito, o foco na análise introspectiva e o recolhimento interior estão presentes numa visão estético-romântica de Rousseau, que influenciou, de certa medida, as análises simbolistas. A noção de felicidade como estado de contentamento permanente foi constantemente reiterada no discurso filosófico da modernidade e contemporaneidade. Em sua obra Devaneios do caminhante solitário, Rousseau desenvolve melhor o entendimento de felicidade e a vincula, em grande parte, a uma postura contemplativa, refletida, sobretudo, no recolher-se em si mesmo. É importante destacar que, além de reiterar, na medida do possível, um entendimento de felicidade próximo de Agostinho no que concerne ao recolhimento pessoal e postura contemplativa, o estilo literário do livro supracitado, que envolve uma narrativa autobiográfica, se aproxima das Confissões do Bispo de Hipona. Sob essa perspectiva, afirma Jacira de Freitas sobre a obra em questão(2022, pp. 7-8): “ Dentre os temas, talvez o que mereça maior destaque seja o do conhecimento de si como apaziguamento da alma, por traduzir o fim do processo daquele que chega, ao final de sua jornada, de posse de uma verdade: a apreensão de seu próprio percurso como processo de superação do ego narcísico exacerbado e sua dissolução na totalidade das experiências do mundo sensível, que o conduzem ao seu ser mais profundo, às puras sensações e às imagens que o circundam (…) Dessa vez, a impetuosidade juvenil de quem deseja, antes de mais nada, convencer que é amável e verdadeiro e a insistente indignação da maturidade cedem lugar ao anseio de apenas exteriorizar a possibilidade de acesso à unidade e à verdade”. Percebe-se, então, um paralelo nítido com Agostinho, visto que o Doutor da Igreja também mobiliza grandes reflexões em torno do conhecimento de si, do desejo pela verdade e da dissolução do ego disperso na multiplicidade. No final de suas reflexões, Rousseau reitera a felicidade como um estado permanente vinculado à posse da verdade sobre si. “A felicidade é um estado permanente que não parece feito, neste mundo, para o homem. Tudo que há sobre a terra está num fluxo contínuo que não permite que nada tenha uma forma constante. Tudo muda à nossa volta. Nós mudamos e ninguém pode garantir que gostará amanhã do que gosta hoje. Assim, todo os nossos projetos de beatitude para esta vida são quimeras […] Vi poucos homens felizes, talvez nenhum, mas, muitas vezes, vi corações contentes, e, de todos os objetos que me impressionaram, esse é o que mais me satisfez […] A felicidade não apresenta nenhum sinal exterior; para conhecê-la, seria preciso ler o interior do coração do homem feliz. Mas o contentamento pode ser lido nos olhos, no porte, no acento, no caminhar, e parece se comunicar diretamente àquele que o percebe” (ROUSSEAU, 2022, p. 157). Em vista disso, assim como Agostinho, Rousseau analisa a felicidade a partir do critério de permanência e imutabilidade. Ademais, o pensador genebrino atribui grande importância ao recolhimento em si como forma crucial de busca pela unidade, a qual pressupõe um afastamento da multiplicidade e do tumulto. Assim, a contemplação ocupa um importante papel na aquisição da verdade. Desse modo, afirma o autor: “O gosto pela solidão e pela contemplação nasceu em meu coração com os sentimentos expansivos e ternos feitos para serem seu alimento. O tumulto e o ruído os comprimem e o sufocam, a calma e a paz os reanimam e os exaltam. Tenho necessidade de recolher-me para amar” (ROUSSEAU, 2022, p. 177).
[5] BAUDELAIRE, Charles. Elevação. In: As flores do mal.
[6] Tais ponderações dialogam com os escritos de Santo Agostinho, o qual reiterava uma “metafísica da interioridade”, mas também a contradição do homem consigo mesmo, o sentimento de exílio e a cisão volitiva. Agostinho aborda o remédio desta conjuntura a partir da graça e da misericórdia divina. Rousseau, filósofo genebrino, retoma, de certo modo, as reflexões agostinianas, mas agora analisa o problema a partir de uma perspectiva social. Baudelaire analisa tanto numa perspectiva agostiniana, trazendo reflexões religiosas, quanto de uma compreensão mais próxima de Rousseau, focalizando na vida urbana e modernidade. Jean-Jacques Rousseau retomou a noção de contradição do homem consigo mesmo, mas para se referir às mazelas do sistema social. Deve-se destacar que, para o filósofo genebrino, não há concepção da doutrina do pecado original. Nesse sentido, ele qualifica as origens do mal como eminentemente sociais. Se a moral usufrui de um caráter artificial, o mal também estaria relacionado à sociedade. Rousseau apresenta uma visão crítica do sistema social que vai se constituindo pela conjugação constante de causas internas e externas. Com o estabelecimento progressivo do artificialismo social, os homens vão sendo tomados, gradativamente, pela paixão da estima, que se revela, primordialmente, na comparação com os outro. Desejante da estima pública e mediante o olhar do outro, o próprio homem se viu como espetáculo. Ademais, o autor em questão se vale das reflexões acima apresentadas para criticar um conhecimento puramente técnico, que favorecia a paixão pela glória, pelo orgulho e pela reputação. Contra o “tecnicismo”, ou melhor, contra o abuso da ciência, ele defende a virtude, a simplicidade e a sensibilidade. o sistema social é um sistema de translação em torno do outro. Trata-se de um movimento que fomenta uma degradação ontológica do “eu” em decorrência da paixão pela estima pública. Com isso, o amor de si é convertido em amor próprio, fato que implica a perda da piedade, a qual acaba sendo diluída numa conjuntura dominada pelo império da opinião e pela busca incessante da glória. A existência em torno do olhar do outro afasta o homem de sua essência. Os indivíduos passam a viver em função das aparências, as quais implicam uma contradição interna da pessoa consigo mesma. Ora, tanto em Agostinho, quanto em Rousseau, o homem sofre de uma cisão. Para o Bispo de Hipona, a saída para anulação da cisão volitiva se dá pela graça, que fundamenta a própria liberdade. Por sua vez, para Rousseau, a saída reside em uma compreensão da liberdade como autolegislação, autodomínio e autodeterminação. Tal liberdade advém da justiça do contrato social legítimo, que estabelece a lei como expressão da vontade geral.
As críticas de Rousseau apontam para uma dupla necessidade: a construção de uma nova forma de convivência humana, seguida pela exigência de legitimar tal ordenação social. O contrato social objetiva a instituição de uma sociedade civil genuinamente humana, mas exige a resolução prévia de certas demandas e questionamentos. Como conciliar a proteção da vida comum com as liberdades e, ao mesmo tempo, determinar as condições de possibilidade de sua legitimidade? Percebe-se como tais questionamentos se encontram no plano do dever-ser. Ora, a legitimidade não se encontra na força, no direito divino, na natureza, tampouco na autoridade paterna, restando somente as convenções. O pacto deve, ao mesmo tempo, ter como condição de validade a liberdade e englobar a alienação total, isto é, a manifestação consciente de dar seus direitos a comunidades, envolvendo, assim, a reciprocidade da entrega, pois “dando-se a todos, não se dá a ninguém”. O resultado é o desaparecimento das vontades particulares em uma unidade que as absorve. A alienação moral implica a formação de uma pessoa pública, de um corpo moral, procedente da Vontade geral, a vontade do todo, que é diferente da vonatde da maioria e da vontade de todos. Ao afirmar que a liberdade apresenta seu fundamento na submissão a uma ordem jurídica soberana e legítima, Rousseau expressa o caráter republicano de sua filosofia política, retomando uma concepção do humanismo cívico florentino segundo a qual a liberdade representa a não submissão a uma vontade arbitrária. Todavia, a concepção de liberdade rousseauniana não é uma variante da liberdade negativa, mas engloba uma dimensão eminentemente positiva. Além disso, o escritor republicano estabelece condições para uma ação política livre, sendo elas: a deliberação comum, a justiça e a existência de uma igualdade relativa, que não deve ser confundida com o igualitarismo. Outro traço do pensamento de Rousseau declaradamente republicano é o destaque às virtudes cívicas.
Destarte, o paralelo acima realizado entre Agostinho e Rousseau aponta que ambos apresentam uma condição na qual o ser humana se encontra em contradição consigo mesmo. Enquanto o primeiro pensador aponta na graça o fundamento da liberdade e a cura para a vontade cindida, Rousseau aponta na lei a fundamentação da liberdade, pensando-a, no aspecto eminentemente público, isto é, nas relações intersubjetivas e, sobretudo, em termos positivos de autodomínio e autorrealização. Cf. DERATHÉ, Robert. Jean-Jacques Rousseau e a ciência política de seu tempo. Tradução por Natalia Maruyama. São Paulo: Editora Barcarolla; Discurso Editorial, 2009.